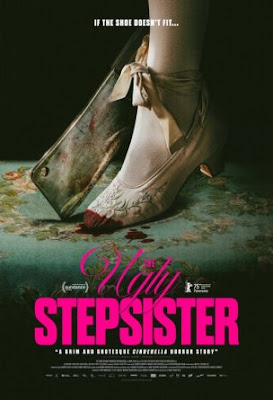Eu costumava dizer que Ari Aster era um diretor que dividia opiniões, mas depois de Beau tem Medo, e agora principalmente depois de Eddington, acho que ele não divide mais: todos concordam que ele se perdeu na própria prepotência artística. Conhecido pelo fenomenal Midsommar, que logo foi seguido pelo também interessante Hereditário, Aster parece não saber mais como aproveitar toda a liberdade narrativa que ganha em seus filmes, e mais uma vez traz um roteiro insosso, repleto de sátiras sociais confusas e uma paranoia caótica e sem propósito.
O filme se passa em maio de 2020, época em que, como todos bem lembram, estávamos no pico da pandemia de Covid-19. Assim conhecemos Eddington, uma pequena cidade de pouco mais de dois mil habitantes no estado do Novo México, e que serve como base para traçar um panorama da sociedade norte-americana durante aquele período conturbado. Nela, temos o prefeito Ted Garcia (Pedro Pascal) em busca de reeleição, enquanto faz o que pode para precaver a chegada do vírus na cidade, fechando locais públicos e decretando a obrigatoriedade do uso de máscaras. As medidas incomodam alguns reacionários, como o xerife Joe Cross (Joaquin Phoenix), que se nega a usar máscara e manter os cuidados necessários, o que gera alguns conflitos com moradores por isso e com o próprio prefeito. Utilizando da propaganda negacionista, Cross também resolve se candidatar a prefeito, tentando barrar a reeleição do atual.
Partindo desta premissa, Aster começa a trazer várias outras situações que abordam a polarização que tomou conta, não somente dos Estados Unidos, mas do mundo todo, como aqui no Brasil. Em tese, Aster tenta criticar as teorias da conspiração mirabolantes que surgiam na época sobre o coronavírus, e a disseminação delas através de redes sociais, mas ao mesmo tempo, não faz nenhuma contrapartida, o que deixa uma ideia ambígua sobre a real intenção da direção. Afinal, Aster quer criticar estas "insanidades", ou dar engajamento?
Essa mesma ideia ambígua surge quando o filme começa a mostrar protestos pela cidade, principalmente do movimento conhecido como "Black Lives Matter". A pauta dos manifestantes na vida real era importante e necessária, mas todos os personagens do filme engajados nos protestos são mostrados como se fossem "alienados", sempre repetindo palavras e jargões infantis e fazendo histeria ao menor sinal de repressão. São, de certa forma, ridicularizados, em uma visão que costumamos ver em discursos da extrema direita. O filme ainda tem uma alusão aos falsos religiosos milagrosos, e sobretudo, ao modo como hoje em dia lidamos com a exposição na internet, onde todo e qualquer argumento termina com um "vou gravar isto e postar na internet", o que remete a um dos maiores medo do mundo moderno: o cancelamento. Mas tudo exagerado e fora do tom.
Esteticamente falando, Aster continua fazendo filmes atrativos e cativantes, e isso não dá pra negar que Eddington consegue ser. Porém, narrativamente, o buraco é mais embaixo. Além da confusão de ideias, e dos temas abordados não terem a profundidade que mereciam, temos também um grande desperdício de talento, como por exemplo os personagens de Austin Butler e Emma Stone, subaproveitados e completamente descartáveis. Aliás, "descartável" é a palavra certa para definir o filme como um todo.